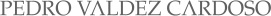VIAGEM AO CORAÇÃO DAS TREVAS de Nuno Faria
OS RECURSOS DO MÉTODO DE PEDRO VALDEZ CARDOSO de João Pinharanda
AD GLORIAM EPHEMERAM de João Pinharanda
SIGHTSEEING de Bruno Leitão
À LA CARTE de Bruno Leitão
OBJECTOS QUEER de José António Fernandes Dias
ENTREVISTA (CROSS-CULTURAL) de Lúcia Marques
QUARTO SEM VISTA de João Miguel Fernandes Jorge
O PESO DA HISTÓRIA@MNSR de Fátima Lambert
UMA CONVERSA CRUA de Hugo Dinis
MUNDOS INQUIETANTES de Xosé M. Buxán Bran
THE ORDER OF TODAY IS
THE DISORDER OF TOMORROW de Luísa Soares de Oliveira
CRUDE de Filipa Oliveira
MEMÓRIAS DOS ACTOS de Sandra Vieira Jürgens
_________________________________________________________________________________________________________________________________
QUARTO SEM VISTA
Um viajante que vá a Itália para estudar as
verdadeiras obras de Giotto ou a corrupção
do Papado é bem capaz de voltar apenas com
a lembrança de um céu azul e dos homens e
mulheres que vivem debaixo dele.
E.M. Forster, Um Quarto com Vista
A exposição Quarto Sem Vista (que Pedro Valdez Cardoso traz no outono de 2011 ao Museu de Arte Contemporânea do Funchal / Fortaleza de São Tiago), não esconde no seu título o envio ao romance de Forster, Um Quarto com Vista (1908). Das suas páginas, como que se ergue uma personagem, Mr. Emerson (a de mais valia moral); e com ele a heroína, Lucy Honeychurch, poderia passar por entre as várias peças que dão forma, voz e múltiplos sentidos a este Quarto Sem Vista. Não estão agora em Florença, a abrir o Baedeker para localizar Santa Croce, somente num forte filipino, numa ilha do Atlântico. Nas mãos, Miss Honeychurch, poderia agora trazer um Guia Michelin ou o American Express; e do terraço da fortaleza, a sua educação vitoriana confundir-se-ia na distância do oceano, muito para além das três Desertas. Aguardava-a desta vez um «quarto sem vista». Uma descida no seu próprio princípio de individuação que, como o velho Mr. Emerson lhe poderia ter dito, tem semelhanças com um espaço fechado; simples, sem qualquer vista exterior. Aí tomarão lugar as raízes profundas dos actos da sua vontade, livres; consequência do seu coração e do seu carácter.
Tal como o romance de Forster é uma obra de aprendizagem, também encontramos idêntico ambiente nas obras de Quarto sem Vista. As quais estão muito distantes de uma noção da beleza como índice de moralidade, essa tradução das leis mais íntimas do ser, na perspectiva de John Ruskin (teórico da arte que idealmente tanto acompanha, com o seu estudo As manhãs de Florença, 1906, as personagens do romance de Forster).
Todavia, o pensamento de Ruskin introduziu na sociedade e naqueles que procuravam uma prática e um convívio com as artes (tocando em particular os que se dedicavam à tradição das viagens pela Itália, Grécia e Próximo Oriente) uma dinâmica de pensamento, que tinha por centro um carácter de vitalidade inerente à própria noção de beleza. A vida é o seu tema constante, que surge sob uma forma ardente e generosa. Esta actividade criadora, este sentido de beleza percorre as páginas de Um Quarto com Vista. Provável romance de adolescência de Pedro Valdez Cardoso; e também por isso um romance de aprendizagem que nos envia, pela proximidade jogada nos títulos, para Quarto sem Vista.
Visita-se, não Florença, mas o Funchal. E a ilha da Madeira foi um dos locais muito procurado pelos viajantes na segunda metade do século XIX e nos anos que antecederam a primeira Guerra Mundial. Não podiam discutir, esses viajantes, as «vistas» e as paisagens de Florença, na pintura de Alessio Baldovinetti; ou comentar o povo que passava na Piazza Signoria ;ou suspender os seus passos sob a loggia. Mas é provável que tivessem encontrado ecos — recordações —, dispostos a conservar e a acrescentar uma certa «quantidade de vida» (no dizer de Ruskin) no paisagismo de John Fredrick Eckersberg ou Tomás da Anunciação, entre muitos outros pintores e aguarelistas que no século XIX (obras que na sua maioria fazem hoje parte dos acervos da Casa-Museu Frederico de Freitas e do Museu Quinta das Cruzes); e que, como muitos dos visitantes, procurassem ser fotografados na casa Vicente Photografos. Não teriam Giotto nem Piero della Francesca, Fra Angelico, Della Robbia ou madonnas de Guido Renni, mas encontrariam em muitas igrejas da ilha nomes maiores da pintura flamenga; e os homens e as mulheres da ilha, e o mar e o céu da ilha, também eles acabariam por ficar, obscurecendo-se lentamente pela «lâmpada da memória», que é, a um só tempo, uma percepção aguda e confusa, por detrás da janela do quarto sem vista.
Lançamos uma sombra onde quer que
estejamos; não vale a pena andar de um
lado para outro para salvar as coisas,
pois a sombra acompanha-nos sempre.
E. M. Forster, op.cit.
Aprendizagem, enquanto perpassar, enquanto suave deslizar das páginas da obra de Forster. Mas é, sobretudo, um projecto de desmitologização o que percorre este Quarto sem Vista. Na fragilidade dos seus materiais (tecidos, linhas, papel, arame, plástico... reutilizados objectos de um banal quotidiano), o projecto e a concretização do trabalho (de que Quarto sem Vista representa somente uma conseguida etapa) têm sempre consigo uma magnitude física. Como se a sua realidade visível trouxesse, sobre uma sucessão de acontecimentos passados, comportamentais e históricos, um desencadeante juízo.
Juízo que no todo do espaço expositivo — peça a peça — actua de um modo semelhante a uma creatio ex nihilo e nos leva, através de continuados actos eficazes à dupla natureza de um subjectivo psiquismo. Passivo e activo, à vez, é o modo como se reveste a receptividade e a espontaneidade captadas num dado espaço-tempo. A imagem que nos é modelarmente oferecida inicia-se numa determinada experiência, histórica e socialmente vivida por outros, mas cujo reflexo pode ser transportado para além do seu exacto tempo e da sua geografia e mesmo dos tipos sociais que a viveram. Mais do que um fenómeno objectivo, é um problema psícofísico, de explícita subjectividade que, com as suas categorias de sensibilidade e de entendimento, se prende à relação do indivíduo com o mundo, com o outro e consigo mesmo.
É a esta deslizante sensação / volição que Valdez Cardoso sujeita os seus objectos. Antes de serem objectos de arte, e de terem uma coordenação quantitativa, eles existem quase que filtrados de casos particulares vindos de um mundo geral (vamos ver já de seguida, como exemplo, a peça «Na Sombra», 2006). Surgem numa espécie de input físico e minimalista, que é primordialmente de ordem ética, sendo o output a sua realização, enquanto arte.
Mas por detrás da cortina vitoriana e eduardiana que desliza do romance de Forster para este Quarto sem Vista, está a compreensão de um eu frente a uma janela sem vista. (As celas da Fortaleza de São Tiago ou o seu corredor em mina prestam-se por demais a esta circunstância, assim como a insularidade, que tanto pode funcionar como ponto limite, em extremo pleno de actividade psíquica, como o seu reverso. De pressão puramente social que, de um modo dramático, irá actuar, em dor, quer sobre o indivíduo quer sobre o colectivo.)
Cabe aqui dizer que se pressente, como ponto de partida em cada uma das obras presentes, uma quantidade mínima de energia captada num ponto da história da arte, social ou cultural. Funciona como uma breve fórmula geradora de novas quantidades de energia. Entretanto, essas quantidades submergiram (actuaram) debaixo e sobre a superfície física (os materiais, quase sempre se não sempre tão pobres), como uma corrente de água subterrânea desaparecida num nada real. Emerge (de um verdadeiro nada — e em arte, como de resto em quase tudo, se não mesmo em tudo, verdadeiro e falso têm a mesma valia), então, o objecto («Na Sombra», «Guilt», 2006, «A Última Ceia», 2007, «Dead Man Walk», 2008...) Emerge de um verdadeiro nada quando actuou a consciência. E, entretanto, em si mesmos, em todos estes objectos apela-se ao reino da subjectividade e da liberdade.
Talvez por isso seja válido introduzir para a escultura «A Última Ceia» — formam-na nove pratos feitos de toile de jouie azul e branco, criando o simulacro dos típicos pratos de porcelana, decorados com restos de uma refeição e roupa interior (cuecas) —, uma aproximação in dubia contra projectum (há que pesar todas as consequências comparativas), ao corpo escultórico que no Museu de Arte Sacra do Funchal instala a magnífica encenação de uma «Última Ceia» (Escola Portuguesa, Manuel Pereira, 1652, escultura em baixo-relevo, estofado e policromado, 55x358cm). Não se trata de um acto de aproximação por redução ao absurdo, pois ele tem com imperativo a modéstia dos elementos pobres que o oferecem a uma prática de diálogo. Na construção de Valdez Cardoso simula-se uma matéria pura, como a porcelana, e também toma presença a singeleza de um objecto de uso tão íntimo e privado (cuecas), como oferenda exposta num prato, entre os restos de uma refeição.
A peça de roupa quer dizer dádiva de uma intimidade. As esculturas de Manuel Pereira, instaladas ao redor de uma mesa, simulam a «Última Ceia» e expressam-na através de uma integridade física. Fazem desse substrato o seu primeiro argumento. Podem depois levantar ante um auditório uma realidade que diz «braço» e «rosto» em oposição(/diálogo) a «prato com restos de comida e cueca», mas em ambas as «Ceias» a solidão do efeito probatório e espiritual, a vontade e a intenção não têm gradual divergência. Quem poderá dizer ser uma menos cristã do que a outra, ser uma mais legítima dos seus processos representacionais do que a outra? Distantes no tempo, despejadas ambas de qualquer envolvência de sagrado, mesmo que lhes toque a «heurística do temor», metodologia negativa que é necessário evitar (Hans Jonas, Le Principe Responsabilité, Une éthique pour la civilisation technologique, 1990), apenas são dois valores e dois bens singulares.
Mr. Emerson, Miss Honeychurch ou o seu apaixonado George Emerson se tivessem desembarcado na baía do Funchal, num cruzeiro que demandasse a ilha — à semelhança do que encontramos em Agência Thompson & Cia (1907), de Júlio Verne —, é bem provável que numa visita à catedral vissem este grupo escultórico, um pouco em ruína, provavelmente, e não com o aparato de grandeza calma e nobre que hoje o seu modo de existência lhes oferece. Essas personagens do romance de Forster teriam sentido as figuras da «Última Ceia» sob a plenitude de «uma luz grave e dourada da qual já participava a muda família do Olimpo» (Walter Pater, Essais sur l’art et la Renaissance, 1985). Por certo eles desceriam / subiriam, logo de seguida, a sua curiosidade e interesse e espírito de ruptura para os pratos de toile de jouie e restos de comida e peças de roupa íntima masculina.
É desta valoração modelar que nos fala e nos faz ver Quarto sem Vista. Que, enquanto peça que dá o título à exposição, não vai além de um rolo de janela (bordado sobre tecido, com enchimento). Bordado que traz escrito: Never talk to strangers. Frase que é por si um repositório de autodisciplina e de autonegação vitorianas. Contra as quais Mr. Emerson (que no romance de Forster representa severa crítica ao puritanismo) combate, enaltecendo o sentido do Renascimento, «carregado de virtudes opostas, capazes de, em todo o tempo, agitarem os sentidos, as cores estranhas, os odores curiosos, o trabalho das mãos de um artista, o rosto de um amigo» (David Leavitt, Florence: A delicate case, 2002). «Quarto sem Vista» surge-nos em duas versões; desdobra-se em duas solitárias e singulares peças, idênticas entre si. Datadas de 2003 e 2011, espelham-se na sua autopunição. Em diversa coloração de tecido, o bordado permanece com o conselho castrador (no envio da sua interiorização e na figura do seu enchimento) de «não falar com estranhos».
«Na Sombra», como sucede na maioria dos trabalhos de Pedro Valdez Cardoso, é uma exposição (leia-se instalação) de despojos. Tecido e diversos materiais — chapéu de sol, bengala, cartolas, garrafas, pratos, manta sobre o chão, folhas de árvore caídas, frutos —, em dimensões variáveis. Tudo é azul. Azul da cor do céu; de um azulinho primaveril. Que não deixa de ser apetecível. Que não deixa de ser insuportável. Por esse azul desliza subliminarmente uma aguda ironia, que muitas vezes se converte em verdadeira caricatura da natureza social e humana. É suficiente citar «Le Monde Diplomatique» (2006), como objecto onde podemos encontrar radicalizado uma compactibilidade destrutora que se quer arremedo entre o bom gosto e o vazio. Sob uma mesma perspectiva, acrescida de uma tonalidade dolorosa, podemos aceder à esfíngica representação de «Self-Portrait as a Young Boy» (2006). (Aludirá o título — quem sabe — ao Retrato do Artista quando Jovem, 1914-15,de James Joyce, na mordaz candura de um branco de morte, sobre um branco ainda mais mortal. E a figura, assim esquálida, é provável que envie a Stephen Dedalus, personagem de Ulisses, 1922, já presente em o Retrato.)
«Na Sombra» é herdeira do gosto das cenas campestres e dos piquenique burgueses. Deixou-nos, no instalado azul, um exclusivo rasto de presenças masculinas (as duas cartolas, por exemplo), numa alusão a um escondido mundo homossexual masculino, tão atacado na Inglaterra vitoriana e eduardiana, até quase aos dias de hoje. (Mentalidade que se mantém em grande parte do mundo contemporâneo. Um outro trabalho presente surge a partir de um verso de Lord Alfred Douglas, «The love that dare not speak its name», do poema «Two Loves». Alude, ao tempo das personagens do romance de Forster, que é o do escândalo e o da prisão de Oscar Wilde.)
«Na Sombra» é uma citação da pintura de Manet, «Le Déjeuner sur l’herbe» (1863, Museu d’Orsay). Que por sua vez se inspirou directamente no idealismo pagão de Giorgione, de «O Concerto Campestre» (1510, Louvre) ou em obras de Ticiano, como a «Vénus de Urbino», que Manet conheceu em Florença. Agora, no campo de destroços azuis de «Na Sombra», ausentaram-se as figuras. E os despojos que ficaram deixam somente entrever, no tocante a presenças, na lonjura de uma tarde, os sinais de dois homens. Seria como se Valdez Cardoso dirimisse (pois há muito de luta que acabou de ser extinta ou de fogo íntimo que foi silenciado nestas obras) — depois de olhar para uma pintura presente no Museu da Quinta das Cruzes, «Piquenique» (1865), de Tomás da Anunciação —, dessa cena campestre os aristocratas, o povo e a baía do Funchal em fundo, para apenas nos deixar somente resíduos de uma masculinidade em fuga.
Tudo a coberto de ténue azul. Num deslizar de azul que desce desde o céu de Fiesole, onde as personagens do romance de Forster fizeram um piquenique, enquanto contemplavam Florença, até esta pintura de Anunciação, na qual se poderia ouvir, e logo impregnando os em abandono elementos que restaram de «Na Sombra», fragmentos de vozes:
« — Que lhe parece esta nossa paisagem, Mr. Emerson?
- Nunca acho as paisagens muito diferentes.
- Que quer dizer?
- Que se parecem todas. O que nelas importa é a distância e o ar.»
Era o tempo do poema «De tarde» (1887) de Cesário Verde. Aquele que começa «Naquele ‘pic-nic’ de burguesas, / Houve uma coisa simplesmente bela» e que na sua docilidade, coberta de suave azul, tal como «Na Sombra» guarda em si um feito dialéctico, um conflito que contradiz o enlevo do encontro ou a perfeita paisagem. Toda a luminosidade se esvai (apesar desse pálido e nascente azul) e em seu lugar fica um rosto glacial, um paraíso em queda, uma estação (rimbaldiana) no inferno.
Nesse plaino de elementos — tão visíveis formas fósseis — que se cobrem de tecido azul, como que se oferece, em rastilho, uma referência à homossexualidade, desde a Grécia Antiga até ao abismo em que a realidade em muitas das sociedades contemporâneas a lança. Sobre essa «manta» lançada «Na Sombra» podemos entrever a relação erastés/erómenos (imagem erótica tão comum nas pinturas dos vasos gregos) que nos oferece o Sócrates platónico no Cármides, quando vemos o soldado Sócrates, ao regressar do acampamento de Potideia, ser atraído pelo jovem que dá o nome ao diálogo (Cármides) e que se sentou ao seu lado. Como sob esse chapéu de sol poderíamos entrever o reflexo de duas breves figuras de amantes de outro diálogo de Platão (Prótagoras), Pausânias e Agaton. Ou supor a presença, ainda recente, de duas personagens de um diálogo de Oscar Wilde: Ernest e Gilbert. E, entre eles, à semelhança das folhas que durante o piquenique caíram das árvores ao redor, descem sobre nós estas duas frases do seu diálogo acerca da vida, acerca da arte, acerca de tudo: «Ernest ‘Devemos então virar-nos em tudo para a Arte?’ Gilbert ‘Em tudo. Porque a Arte não nos magoa.’» (Intenções, quatro ensaios sobre estética, 1992, trad. António M. Feijó).
O ódio entre os homens provém de que nos
separamos uns dos outros e não queremos que
ninguém olhe para dentro de nós, uma vez que
nada de belo há aí dentro.
Ludwig Wittgenstein, Culture and Value, 1980
O clima finissecular que encontramos em «Na Sombra» repercute-se por toda a exposição. Com uma visão de grande domínio sobre a história da arte, Valdez Cardoso é capaz de partir dos valores de um dandy, como os de Brummel — a arte de viver designa a beleza do transitório, um comportamento frio, vazio de qualquer obsessão de perenidade, mas imbuído de uma veleidade de sedução, tão conseguido em «Le Monde Diplomatique» (tecido, madeira, vidro e arame, 150x 90x90cm). Objecto conluiado numa mesa pé de galo que se (des)envolve numa jarra de flores. Uma estética de muito pouco (assim poderei dizer), alicerçada em materiais (quase sempre frágeis e) pobres, que percorrerá depois da segunda guerra mundial o século XX, em obras de grande secura técnica, como as de Duchamp ou de Andy Warhol, mas sem perderem estas (as de Valdez Cardoso) o pathos de consumação do pessimismo utópico de Joseph Beuys ou, ainda, de uma espécie de modo de vida que se deixa cobrir de pigmento azul, num jogo cruzado, profundamente irónico, entre o eterno e o efémero, que pode evocar Yves Klein; ou as colorações matéricas de raiz puramente conceptual de Wolfgang Laib.
Estamos perante um bloco de sensações. Uma obrigação de incertezas, de que resulta, mais do que uma estética do pouco (e ela surge aqui, sobretudo, por causa de uma certa síndrome Dorian Gray), uma arte erguida a partir do muito pouco — os materiais que lhes dão existência. Assim, «Cisne» (2009-10). Tem, de resto, o verso de Lord Alfred Douglas já referido, como o seu verdadeiro título. Abusivamente, neste texto, tomo esse verso «the love that dare not to speak its nature» pela figura cisne, que na escultura se ergue, suspende e avoluma ; e «Cisne» será neste meu texto o título da obra (desde já com o meu pedido de desculpas ao autor, ao museu e ao público). Apesar das calças de ganga masculinas usadas (que não são mais do que uns contemporâneos jeans) sujeitos a pasta de enchimento, a alfinetes de dama, a correntes de metal e roldana (a lembrarem qualquer prática de sexo sado-masoquista, que terminou não em pequena morte de orgasmo, mas em morte plena), «Cisne», nos seus 300x200x85cm, suspenso desde o tecto, deixa as suas penas de trapo envelhecido rasarem o chão. Uma suposta pedra mármore (contraplacado e linóleo), presa na parede, vazia de dizeres, assinala uma malograda existência.
Antes de ser o objecto de arte «Cisne», como grande parte destas peças, existiu como uma figura literária ou cinematográfica ou como uma forma de ideologia (mesmo). Suspenso de uma hipersensibilidade, «Cisne» chega-nos figura de drama, protótipo desfigurado do artista, à semelhança de Dorian Gray (Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890) a lembrar-nos a demiurgicidade de «Duchamp a Beuys, que metamorfoseiam o seu comportamento em obra» (Nicolas Bourriaud, Formes de Vie, L’ art moderne et l’ ínvention de soi, 2003) A uniformidade do espaço de «Cisne» rasgou-se. Sujaram-se as suas penas. Vivia e dormia diante do espelho. (No dizer de Baudelaire.) Esse espelho era ele mesmo. Esse espelho era a arte. Mas agora o «Cisne» suspenso da corrente de metal rompeu a isotropia, e perdeu a constância das suas propriedades físicas. Isto é, a luz já não procedia de si de um modo perene, de todas as partes de si e de todo o tempo de si por igual. E o «Cisne», aquilo que possa figurar, aprendeu que não é o mesmo estar no cimo de uma montanha, na margem de um rio ou no cimo das vagas do mar.
«Cisne» não passa da metáfora de um suicídio. Acumulação de vislumbres de que resultou um drama, uma espécie de incineração de sentimentos, de emotividades: um cisne enforcado, na secura dos próprios elementos da sua história. E o que nos diz o «Cisne», enquanto «Cisne» que se vê no espelho de si mesmo? Revela-se em esplendor de encontros perdidos, de que ficam sempre sombras, sentidos por clarear, tal qual a memória, tal qual a imagem de um filme, sequência sobre sequência, distância de distância, acaba sempre por se perder um elo imperdível — veja-se toda a acção do autor-actor do vídeo The Eraser (2005, 3’, cor, s/som). Face a este «Cisne» — escultura suspensa de uma tensão balanceada e acorrentada, nos seus jeans usados e sujeitos a uma pasta de enchimento e tudo preso por alfinetes de dama —, penso na visualização do bailado Lago dos Cisnes (1895)de Tchaikovsky. Na versão do coreógrafo inglês Mattew Bourne, que se estreou em Londres, no Sadler’s Wells, em 1995. Como na história original os amantes morrem, mas a força do amor destrói o mal e eles reúnem-se no além. Os cisnes nesta versão londrina são dançados por homens. Nenhuma potência de amor ergueu o dobrado pescoço deste «Cisne». Ele é amargura e perda.
Alcibíades — Vou dizer a verdade. Crês que o permitirás?
Sócrates — A verdade, com certeza que permito que a digas;
ordeno-te mesmo que o faças.
Platão, O Banquete, 214e
As palavras que Martha Nussbaum (The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy, 1986) encontrou para descrever Alcibíades (a partir, por certo, das páginas que Platão lhe dedica nos diálogos que trazem por título o seu nome, Alcibíades I e II e em O Banquete, para além da biografia que Plutarco lhe dedicou), na tentativa de erguer a sua vida a um clímax de plenitude e de o espelhar desde a cidade a toda a Grécia, levam-me a transvesti-lo em algumas das obras presentes. Em «Sel-portrait as a Young boy» reside a força nascente de um Alcibíades muito consciente da beleza do seu corpo e da influência que esta exercia — tinha um escudo de ouro fabricado por si mesmo, onde não pôs qualquer insígnia dos seus antepassados, mas a figura de Eros armado com um raio —, e a todo o branco que cobre a escultura, sobrepunham-se esses dons da natureza. Para além de ser belo, foi dotado de grande energia e capacidade intelectual, que o converteram num dos grandes generais e estrategas e num dos oradores mais hábeis em fascinar o povo ateniense.
Mas aquele que falou dos raios de Eros e em setas que feriam a alma, na reflexão sobre o amor e a razão no Banquete (219b), acabaria morto por uma flecha. Generoso e volúvel, traidor de amantes e de duas cidades (de Atenas e depois de Esparta), mutável e tenaz. Vejo-o na singeleza branca e fria deste «Self-portrait as a young boy», que uma caveira domina.
«I didn’t choose never to forget» (2005, mapas do mundo em papel plástico, cartão, metal, elástico e linha, d.v.), polarizações das terras e rios, de mares e continentes que se prolongam nos «Mapas» (2010-11, série de 10 desenhos, esferográfica e químico sobre panos de limpeza e papel, d.v.). Desperdícios que se espalham ou que se aglomeram, contidos. Existe matéria sem espírito; mas não espírito sem matéria. A primeira afirmação mostra-nos toda a natureza inerte e uma grande parte da vida. A última, só aparece relacionada com a matéria, organizada de determinado modo — organismo, nervos, cérebro. Aqui inclui-se qualquer tipo de subjectividade. A presença de Alcibíades multiplica-se nestes fragmentos do mundo, nestes restos de memória que nenhum pano de limpeza consegue apagar, porque «eu não escolhi nunca esquecer».
É como se o víssemos projectar-se — «um ser formoso, dotado de uma graça e esplendor físico que cativavam a cidade inteira [...] rasgos que floresceram em cada etapa com uma nova autoridade e um novo poder» (Nussbaum, op.cit.) —, como um vírus; e o víssemos nos dois planos da história e da geografia (em diacronia e sincronia) a mutilar as estátuas dos deuses e a profanar os Mistérios, a trair sucessivas cidades, a planear impérios e a sofrer vitórias e derrotas. Versátil, ambicioso, libertino, encarna o egoísmo, a vontade de poder, a sedução. Podemos vê-lo e ouvi-lo (ou a um dos seus muitos replicantes — que o Ocidente não mais parou de criar) a afirmar, na hora exacta antes do combate, ou quando sabe que vai enviar alguém para um passo com risco certeiro de morte, que «Vai tudo correr bem #2» (2011, colete salva-vidas feito a partir de envelopes de papel cozidos e pasta de enchimento, 98x58,5x4,5cm); e a avançar — «Dead Man Walk» (2008, tecido fita de algodão, cordões, atacadores, folha de alumínio, arame, 113x50x25cm) — pelos restos dos rasgados mapas e sobre o clima misto de guerra e de festa que assinalam lugares do mundo onde a homossexualidade é considerada crime.
A mochila que transposta às costas, mostra-nos sinais da sua morte próxima: ossos, um crânio, entre os vários objectos que um caminhante na natureza possa trazer consigo. «Dead Man Walk» poder-se-ia ter perdido nas terras do Ponto, onde Alcibíades construiu os seus castelos, ou em mais longínquos percursos asiáticos que, em fuga ou em conquista, visitou. Ou, somente, num percurso de montanha, nos dias de hoje, entre levadas e os cimos nevoaceiros da Madeira. Esse homem que caminha — e é tempo de começarmos a perder a imagem do ateniense, deixemo-lo na contemplação de si mesmo, nessa espécie de natureza morta que nos oferece, fixada num tecto, «Estuque #2» (2011, tecido sobre diversos objectos e madeira, 120x120x30cm) —, esse homem leva consigo a morte, transportou-a, como todos os homens dentro do seu próprio tempo, isto é, dentro da sua mochila, como se fosse o enunciado do seu passeio, a projecção de toda a sua actividade e a duração da sua aventura. E do seu tempo deduz-se sempre o tempo do seu próximo.
Um traço comum unem «Guilt» (2006, napa preta, 80x240x3cm), o vídeo The Eraser (2005, 3´, cor, s/som), «Blackout» (2007, madeira, esferovite e tecido, 200x140x20cm) e o trabalho que tem o título da própria exposição, «Quarto sem Vista» (2011, bordado sobre tecido e areia, d.v.). Enquanto «Blackout» há muito deixou por completo de vedar a luz, e se mostra como um rasgão e um farrapo aberto à crueza de uma luminosidade mordida por pássaros negros (corvos, gralhas, melros), que com os seus bicos e garras ajudaram a destruir a cortina, deixando-a em apodrecidos farrapos, «Quarto sem Vista» — nas suas duas versões —, ainda preservam a entrada, não da luz, mas de qualquer corrente de ar mais frio, ou do vento do inverno ou da chuva que possa com incidência bater numa porta ou numa janela. Trata-se de simples rolos para tapar frestas. Que têm bordado a frase never talk to strangers. Aviso de grande severidade, que tem correspondência com um «nunca saias da estrada». Conselho que se acaso foi dado ao caminhante que transportou a mochila e que se vestiu com a pele de «Dead Man Walk», então não foi ouvido, pois seguiu por certo por caminhos não assinalados nos opacos «Mapas».
Em The Eraser o autor / actor toma o centro do cenário, uma igreja de culto católico. Deixemos que o avanço dos seus passos em direcção ao altar assumam o peso de um sacrifício. A personagem avança sem qualquer hesitação (não é importante a visão do seu rosto, mas a de todos os seus gestos de uma implícita humildade decidida, que se querem de apagamento, de rasura), com um balde plástico na mão direita, onde leva os materiais de limpeza. Sobre o ombro esquerdo, uma vara que na extremidade sustém uma esfregona. O ritual das luvas, que meticulosamente calça, inicia o sacrifício.
Se por um lado se encena a existência de um eu, sujeito de feridas que são mais do que religiosas, metafísicas ou sociais, sobretudo psicológicas, pois os nódulos do sofrimento estão na alma e a vida não faz mais do que obter provas no vazio e arrancar pela obediência e pelo medo uma prática de tortura omnipresente. A água da lavagem, o início da limpeza, o esfregar o chão, o fazê-lo de joelhos são parte de um temor, partilha da presença de um numinoso, que atrai, seduz, ameaça. E repetir estes gestos, com automatismo, de um modo instrumental, encerando os compridos bancos e o chão. Para de seguida limpar a talha, os anjos dos tocheiros, o cadeirão, as banquetas e demorar um pouco mais o instante da limpeza entre as feridas que as setas de um imaginado archeiro deixaram no torso de um ainda efebo S. Sebastião. (Dizem que Alcibíades — ainda por uma vez a ele regresso — esfacelou os rostos e os genitais das estátuas de deuses.)
Por outro lado a violência parece domada e o impulso agressivo sufocado. The Eraser emerge em «Guilt». O sofrimento teceu a própria palavra. Ela é o impulso contínuo de uma fonte interior. Quanto mais estrito o autodomínio (The Eraser acabou de lavar o mármore do chão e na parede de uma das celas da Fortaleza, a palavra «Guilt» está escrita com a silhueta de pássaros), mais poderosa é a necessidade de uma rebelião, de uma violência contra o proibido. E neste acto de violência em que o sujeito se dobra sobre si mesmo (em que é autor e actor) reside uma rebelião das formas, fractalidade que, num desenvolvimento quase botânico de ramos e raízes, pulveriza as partes de um todo. Vão essas partes, e vai esse todo modelar a pesquisa de objectos que não passam num geral de artefactos ritualísticos — enquanto actor tem também the Eraser uma função sacerdotal —, roubados a um vulgar uso quotidiano.
Pertença frágil do útil, essas peças banais são transportadoras de arte. Pedro Valdez Cardoso liga-as a uma necessidade de criação / destruição que perpassa o sem fundo da vida. Indo de culturas ocidentais a outras culturas que com estas se têm cruzado, vemos este complexo referente real ser re-presentado, em abismo, preocupação, ironia e ataque através de garrafas de plástico, tecidos, fita adesiva, terracota, cartão, panelas, papéis, frascos de detergente, baldes, vassouras, esfregonas, alguidares, chapéus de sol... Uma cadeia transformadora de produtos que procura uma reflexão sobre as formas identitárias hodiernas, quer do indivíduo quer de um universo mais vasto, que não passam, de facto, de um Quarto sem Vista ou de uma janela sobre o caos.
Mas o universo da arte — ou só o indivíduo que a pratica e escuta — repousa sobre a cimalha em ruínas de «Blackout». É um pássaro negro, morto. E para além, mas dentro e longe do Quarto sem Vista, vivemos todos nos interstícios da vida de uns e dos outros e ficaríamos deveras surpreendidos se pudéssemos ver tudo — ou somente um pouco mais do que alguma parte de tudo.
João Miguel Fernandes Jorge
_________________________________________________________________________________________________________________________________